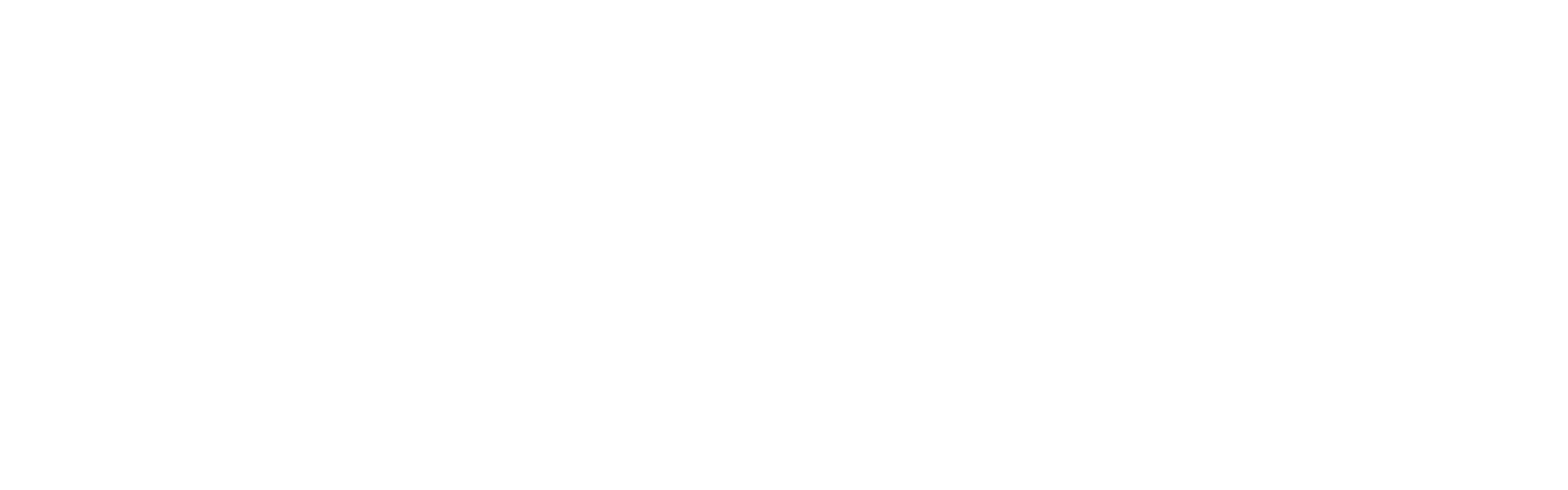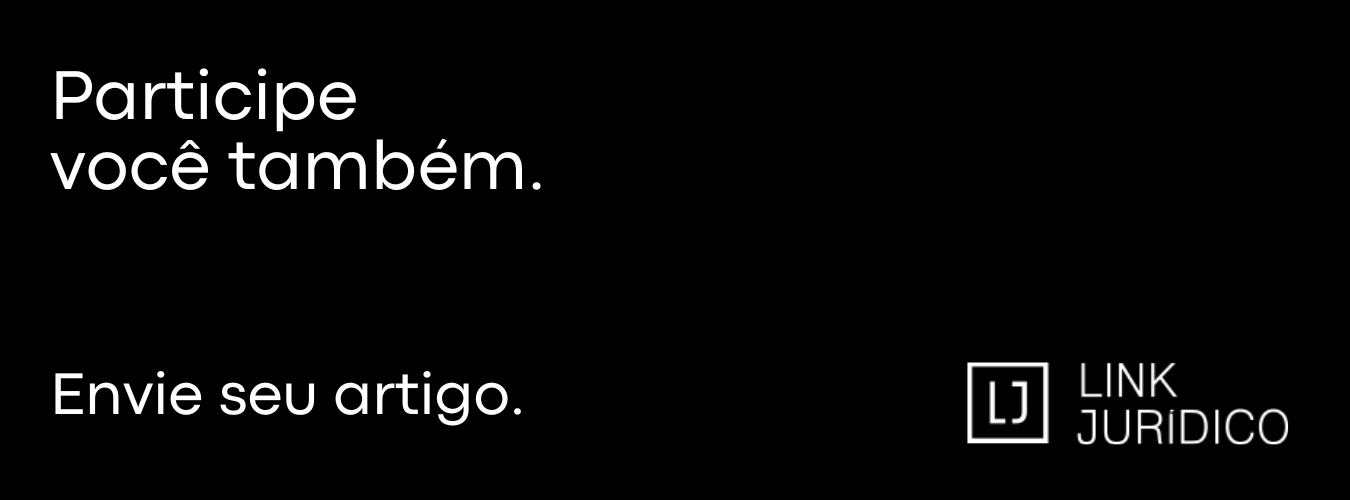Por Laura Brito
Neste ano completamos 30 anos da primeira lei que regulamentou a união estável no Brasil. É verdade que a Constituição, em 1988, já tinha reconhecido essa espécie de relação como família, mas foi a Lei nº 8.971, de 1994, que detalhou pela primeira vez os critérios da união estável – prazo mínimo de cinco anos ou prole –, direito recíproco a alimentos, direitos sucessórios e meação.
Ao longo dessas três décadas, os juristas brasileiros se empenharam na valorização dessa família que se forma no plano dos fatos, ressaltando, em todas as oportunidades, que não há hierarquia entre casamento e união estável. Com esse fundamento, inclusive, o STF equiparou os direitos sucessórios dos cônjuges e dos companheiros em 2017. Muito antes disso, a Lei nº 9.278/96 já tinha ampliado a regulamentação da união estável e o Código Civil de 2002 tinha afastado requisitos temporais para a sua constituição.
Quando se pensa em dignidade, cuidado e responsabilidade, no sentido mais nobre dessas expressões, não há dúvida: o casamento e a união estável ocupam o mesmo patamar como expressão legítima de formação de uma família. Por isso, em qualquer livro, notícia ou artigo de doutrina, você vai encontrar que são relações que atribuem os mesmos direitos. Aliás, isso tem sido propagado aos quatro ventos e nunca na vida vi um tema jurídico tão bem difundido. Em qualquer lugar, para qualquer pessoa que você perguntar, ela saberá te responder que, no Brasil, “fazer união estável” é o mesmo que se casar.
Só que nos meus mais de quinze anos de atendimento a famílias, o que eu vi foi exatamente o contrário. Ainda que a lei garanta pensão por morte no caso de união estável, eu perdi a conta de quantas vezes eu tive que judicializar o reconhecimento post mortem da existência dessa família. No momento das separações, o reconhecimento da relação, assim como a garantia de uma meação justa são dificultadas, impondo aos conviventes uma instrução probatória exaustiva.
Recentemente, ao cuidar de uma ação de reconhecimento e dissolução de união estável, o Juiz sentenciou que, se as partes tinham vivido juntos por três anos, era tempo suficiente para terem se casado ou terem formalizado a união estável com testemunhas e que, se não o fizeram, era porque não pretendiam ter essa espécie de relação. A decisão é absurda, tanto que foi reformada no Tribunal. Mas a que custo para os conviventes? Aliás, a que custo para o Poder Judiciário?
O que quero aqui é abandonar o apego que meus colegas têm de repetir que a união estável é igual ao casamento quando precisamos admitir que, no balcão das varas de família e das repartições públicas, como o INSS, essas relações não são tratadas da mesma forma. Nós precisamos admitir que, ressalvada a igualdade constitucional, no dia a dia do chão do fórum, os efeitos não são os mesmos. Precisamos sair de nossas torres, onde falar de dignidade humana parece apagar os percalços dos processos, para contar para as pessoas à nossa volta que viver em união estável, especialmente sem formalização, é um problema. Que a conta da informalidade uma hora chega e costuma chegar altíssima.
Enquanto pessoas me contam que preferiram viver em união estável para ser mais barato caso decidam se separar, outro dia fui em um evento para advogados em que o palestrante partilhou que aumenta em 20% seus honorários se a separação for de uma união estável. E faz sentido porque, no caso, é preciso criar teses e provas sobre a existência em si da relação. A conta não fecha.
Por isso, enquanto lutamos por igualdade nas defesas de tese, peço que tenhamos responsabilidade de publicar nos jornais, de dizer às pessoas à nossa volta, de explicar aos clientes que se eles tomaram a decisão de formar uma família, que considerem seriamente a possibilidade de se casar. E, caso entendam que a união estável lhes cai melhor, exercendo a liberdade que possuem, que sejam orientados adequadamente sobre as muitas maneiras de formalização da relação.
O problema não está nos diferentes tipos de família, está no abismo entre a tribuna e o balcão.